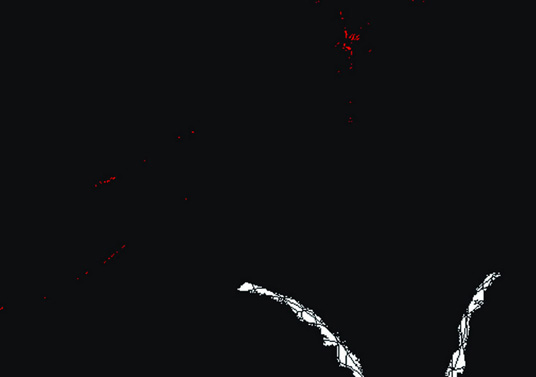Gerifalto na Praia
Na bebedeira do fim de semana formiguento e bichoso, encontrei-me na praia naquele saudoso destempero de não existir.
Muitas horas e um voyeurismo lento e céptico. Nenhum corpo me trouxe o pénis à ribalta. Compreende-se o viagra. De natural, desejar o quê?
Ana Cristina César
Cartilha da Cura
Versão dramática de Alberto Augusto Miranda, a partir da obra poética e epistolográfica de Ana Cristina César.
Actuantes: M2 –; H1 –; M1 –
1º Acto
H1 – As mulheres e as crianças são as primeiras que desistem de afundar navios.
M1– Acordei com coceira no hímen. No bidé, com um espelhinho, examinei o local. Não surpreendi indícios de moléstia. Meus olhos leigos não percebem que um vermelho a mais tem um significado a mais. Passei pomada branca até que a pele, rugosa e murcha, ficasse brilhante. Murcharam os meus projectos de ir de bicicleta à ponta do Arpoador. O selim poderia reavivar a irritação. Em vez disso decidi dedicar-me à leitura.
H1 – Suicidar-se-ão os operários de Babel ou nasceram do suicídio?
M1 – Por enquanto não há sequer uma luz de lado amenizando a noite
H1 – Desde que voltei, tenho sobressaltos ao ouvir a tua voz ao telefone. Às vezes despeço-me com brutalidade.
M1 – Não, Pedro, não quero brincar mais às putas. Imagino outra coisa; que dormito e Luz me cobre com o seu peso-pluma.
H1 – Circulo sobre o lustre do saguão. Espera ardente, transistor, polaróide, verde, o céu azul. Desço para o parque.
M1 – Ou não era suicídio sobre a relva. Eram brincos caídos e um anel de jade, numa dura castidade, a minha fúria de batalha, que viaja e volta.
H1 – Desperto e vejo quatro estrelas pela escotilha do comando.
M1 – Quase encosto no peito do piloto.
2º Acto
M2 – Minha boca também está seca deste ar seco do planalto. Brasília está tombada, iluminada como o mundo real. Pouso a mão no teu peito, mapa de navegação. Desta varanda, hoje sou eu que te estou a livrar. Da verdade.
M1 – Ela quis, queria matar-me. Quererá ainda, querida?
M2 – Não pergunto: da sombra daquele beijo que farei? É inútil ficar à escuta.
M1 – Ela quis, queria matar-me. Quererá ainda, querida?
M2 (em regaço) – As cartas não mentem nunca: virá ver-te outra vez um homem de outro continente.
Oráculo (desdobre de H1 ou Off) – O túnel corre, interminável poiso negro sem quebra de estações. Os passageiros nada adivinham. Deixam correr, não ficam negros. (Tirando a Máscara): Deslizam na borracha, caminho discreto pelo cansaço que apenas se recosta contra a transparente escuridão.
M2 – Não há razão para conservar este fiapo de noite velha. Há uma fita que vai sendo cortada deixando uma sombra no papel. Não sou eu que estou ali de roupa escura sorrindo ou fingindo ouvir com uma doçura venenosa de tão funda.
Oráculo – E mais não quer saber a outra, que sou eu, do espelho em frente. (Tirando a Máscara): Vou bater à porta do meu amigo que tem uma pequena mulher e fala pouco como uma japonesa.
M1 – Caixa de areia com estrelas de papel. Balanço, muito devagar… E se eu te disser que te adoro e te raptar não sei como dessa aflição de março, ainda que aproveitando maus bocados para sair do esconderijo num relance?
Oráculo – conheces a cabra-cega dos corações miseráveis?
M2 – Tantos poemas que perdi. Tantos que ouvi, de graça, pelo telefone. Fiz tudo para te agradar: fui mulher vulgar, meia-bruxa, meia-fera, risinho modernista arranhado na garganta, malandra, gay, vândala, talvez maquiavélica… um dia emburrei-me, vali-me de mesuras, fiz comércio, avarenta, embora um pouco burra, porque inteligente punha-me logo rubra, ou ao contrário, cara pálida que desconhece o próprio cor-de-rosa. E tantas fiz… talvez querendo a glória, a outra cena à luz dos holofotes, talvez apenas o teu caminho. Tantas, tantas fiz…
Oráculo – Perder é mais fácil do que se pensa. Lá fora há um amor que entra de férias.
M2 – Exactamente: o meu peito está superlotado. fotografar era pescar na margem relvada do rio. rigidez aguardando um clique. Que morresse pela boca.
M1 – Fabulosas iscas do futuro.
M2 – Helicóptero sobrevoando baixo o hospital do cancro.
H1 – Hoje mesmo quando olhei o rosto exausto de Angelita
M1 – Desde que o Sombra me falou de amor.
3º Acto
M2 – Tudo o que eu nunca te disse dentro destas margens. A curriola consolava. O assunto era sempre outro. Os espiões não informavam direito. A intimidade era teatro. O tom de voz subtraía um número. As cartas, quando chegavam, certos silêncios, nunca mais. Excesso de atenção varrido para baixo do capacho. Risco a lápis sobre o débito. Vermelho. Agora chega.
H1 – Três variações de assinatura. Três dias para o livro de cheques desta agência. Demito o agente e o atravessador. Felicidade chama-se meios de trnsporte.
M2 – Saída do cinema hipnótico. Ascensão e queda deste império, mas vou abrir um lacre. Antes disso um sus: pousa aqui: “como em turvas águas de enchente…”
M1 – É lá fora. Espera.
4º Acto
M1 – Tu estavas para chegar. Numa providência, desapaixonei-me, num risco, numa frase: Não adiantam nem mesmo os bilhetes profanos pela grande imprensa. Saudades de Catarina impecável riscando o chão da sala. Perdemo-nos, é tardíssimo, um deserto industrial com perigosas bocas imperguntáveis. Atenção, estás a falar para mim, sou eu que estou aqui, deste lado, como um marinheiro na ponta escura do cais. (Para o espelho contendo duas figuras: a mesma, em homem e mulher): É para ti que escrevo, hipócrita. Para ti – sou eu que te seguro os ombros e grito verdades nos ouvidos, no último momento. Jogo-me aos teus pés inteiramente grata – bofetada de estalo, descolagem lancinante, baque de fuzil (estilhaçamento do espelho).
M2 – É só para ti y qué letra tán hermosa, pratos limpos atirados para o ar, circo instantâneo, pano rápido mas exacto descendo da tua cabeleira de um só golpe, e o teu espanto!
M1 – Não tenho pressa.
5º Acto
Oráculo – É sempre mais difícil ancorar um navio no espaço
M2 – Acalma-te, minha loucura! Veste galochas nos teus cílios tontos e habitados. Este som de serra de afiar facas não chegará nem perto do teu canteiro de taquicardias.
H1- Acontece assim: tiro as pernas do balcão de onde se via um sol de inverno a pôr-se no Tejo e saio de mansinho dolorosamente dobradas as costas e segurando o queixo e a boca com uma das mãos. Sacudo a cabeça e o tronco incontroladamente, mas de maneira curta, curta, entendem? Eu estava a dar gargalhadinhas e agora estou a sofrer o nosso próximo falecimento, as minhas gargalhadinhas evoluiram para um sofrimento meio nojento, meio ocasional, sinto um dó extremo do rato que se fere no porão, ai que dor súbita, ai que estranheza e que lusitano torpor me atira de braços abertos sobre as ripas do cais ou do palco ou do quartinho. Quisera dividir o corpo em heterónimos – medito aqui no chão, imóvel tóxico do tempo.
6º Acto
M1 – Estou bonita que é um desperdício.
M2 – Este é o quarto Augusto. Lavei os sovacos e os pezinhos. Caso ele me cheirasse.
M1 – Não sinto nada, mamã. ai que enjôo me dá o açúcar do desejo.
M2 – Esqueci. Menti de dia. Hoje beijo os pacientes à entrada e à saída com desvelo técnico.
M1 – Sou moça, estreando um bico fino que anda feio, pisa mais do que deve, leva-me indesejável para perto das botas pretas.
M2 – Por afrontamento do desejo, insisto na maldade de escrever. Mas não sei se a deusa sobe à superfície ou apenas me castiga com os seus uivos. Da amurada deste barco quero tanto os seios da sereia.
M1 – Sou linda; apetitosa; quando no cinema roças o ombro em mim… aquece, escorre, já não sei quem desejo, que me assa viva, que ternura inspira aquele gordo ali, aquele outro ali, no cinema está escuro e a tela não importa, só o lado, o quente lateral, o mínimo pavio.
M2 – Do cais mordo impaciente a mão imersa nos faróis. ainda te escuto a folhear os últimos poemas com metade de um sorriso.
M1 – A mamã veio cheirar e percebeu tudo. Mãe vê dentro do coração mas estou cansada de ser homem. Os peitos andam empedrados. disfunções. Frio nos pés. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra.
M2 – Não quero mais a fúria da verdade. Chove por detrás. Fica boazinha, dor; sábia como deve ser, não tão generosa.
M1 – Calço-me decidida onde os gatos fazem que me amam, juvenis, reais.
M2 – Dantes eu era gata borralheira, pé ante pé, pequeno polegar, pagar na caixa, receber na frente.
M1 – (para M2) – Minha Dor. Dá-me a mão.
M2 – Vem por aqui, longe deles. Escuta, querida, escuta.
M1 – A marcha desta noite.
M2 – Debruça-se sobre os anos neste pulso. Belo, Belo.
M1 – Tenho tudo o que fere.
M2 – Não escrevo mais, não milito mais. Estou no meio da cena entre quem adoro e quem me adora.
M1 – Daqui do meio sinto a cara afogueada, a mão gelada, ardor dentro do gógó. A matilha de Londres caça a minha maldade pueril. Não suporto perfumes. Vasculho com o nariz.
M2 – Ar de Mia Farrow, translúcida. O horror dos ciúmes e do sapato que era gémea perfeita do ciúme negro brilhando no gógó. As noivas que preparei, amadas, brancas. Filhas do horror da noite, estalando de novas, tontas de buquês. Tão triste quando extermina, doce, insone, meu amor.
M1 – Não me deixes agora, fera.
7º Acto
Oráculo – Não basta produzir contradições, é preciso explicá-las.
M1 – Deitei-me no chão sem calças. Ouvi a palavra dissipação nos gordos dentes de Célia.
M2 – Célia sonhou que eu a espancava até lhe partir os dentes. Seriam culpas suaves. Binder diz que um diário é um artifício.
M1 – Estávamos sóbrios. O obscurecimento perseguiu-me outra vez. Não consegui fazer as reclamações devidas. Sinto-me em Marienbad junto dele. Perdi o meu pente. Recitei a propósito fantasias capilares, descabelos, pelos subindo pelo pescoço.
M2 – Binder prefere a hipótese da sedução
M1 – Célia irrompeu pela sala batendo com a língua nos dentes. Célia é uma obsessiva.
M2 – Célia desceu as escadas quatro a quatro. Insisti no despropósito do acto. Comemos outra vez aquela ave ao almoço.
M1 – Cantei e dancei na chuva.
M2 – Binder recusa-se a alimentar os corvos.
M1 – Chamam-me de vadia para baixo. Levanto-me com dignidade, subo na pia, faço um escândalo, entupo o ralo com fatias de goiabada.
Oráculo – Não és o Jack Kerouac apesar das assombrações insistirem em passar nas bordas da cama exactamente como naquele tempo.
M2 – Eu era menina
8º Acto
M2 – Eu era menina e já escrevia memórias, envelhecida. O tempo fazia-se ao contrário. De noite não dormia enquanto os meus olhos viam as luzes dos automóveis velozes no tecto. quando me virava de bruços vinha o diabo e furava-me as costas com um punhal de prata. As mãos interrompiam-se à meia-noite quando chegava o anjo mais escuro que o silêncio. eu era a rainha das cobras.
M1 – Jack doente e eu cuidava dele no hospital. Ele torcia os meus dedos e suava os lençóis. Sentia um calor terrível inquieta na cadeira branca de ferro coberta de hábitos pretos. Com a outra mão eu pegava nos meus seios que não eram tão grandes como a angústia de Jack.
M2 – Eu era a freira de nariz arrebitado e boquinha vermelha. O confessor era careca e não dizia nada, suportava os meus dedos retorcidos entre as grades. Quando dava por mim estava a amparar a cabeça para não cair no sono como ele fazia depois de falar muito. andava de perna meia aberta. O hábito ficava preso no vão; eu não saía do lugar. Nessa época começaram os bombardeios. Tivemos que nos esconder todos dentro de um comboio apagado no meio da floresta. Havia mais gente que espaço e todos se deitavam no chão e tentavam descansar os peitos fatigados, os corações exaustos, os olhares carregados, etc. Jack vigiava os céus de insónia por uma fresta do tecto. Um homem gordo roncava a mus pés. Ao lado dele uma mulher carnuda remexia-se. Jack barbado e cabeludo, movia a cabeça de um lado para o outro. Quando as explosões recomeçavam, Jack atirava-se ao chão e rolava por cima dos seus protegidos até ao meu cantinho acocorado.
M1 – A rainha das cobras era cruel com olhos flamejantes. Capturava Jack na floresta e torturava com chicotes, embebia feridas com água e sal. Não pessoalmente mas comandando soldados cabeçudos, barris de obediência. Jack apanhou-me deprevenida durante o descanso vespertino. Subiu nas minhas costas e desceu a boca nas dobras grudentas do pescoço. Não me mexi e deixei que os dentes trincassem o corpo todo.
M2 – As mãos de Jack parece que entenderam e vieram muito. As pernas de Jack entenderam e mudas fizeram vôo rasante nas minhas. Os meus dentes seguraram-se: não me movi pela tesoura. Jack entendeu e não passou de mariposa. Rasteiro, afastou-se e era como se tivessemos dormido sem reparos.
H1 – Finalmente a mulher carnuda acordou, superiora, madre, dona dos soldados, dona da pensão. Quando Jack subia nas costas dela, não se dormia mais no casarão, no comboio, no hospital.
M2 – De facto, recebi visitas discretas da nova enfermeira de plantão, enfermeira de enfermeiros que contraíam a peste que curavam. Jack, no coro, franzia a cara e só eu percebia na plateia. Tinha suor, não tinha palmas.
9º Acto
H1 – A vida parece laminha e a carreira é um narciso em flor. Penso pouco no Tomás. Depois… desgosto: dele, do pau dele, da política dele, da viola dele. O Gil jura que são de Shakespeare os versos: “foder é humano, chupar é divino” e desvia o olhar para o centro da mesa depois de diagnosticar silenciosamente a minha paranóia.
M1 – Ontem fizemos um programa os três. Nessas ocasiões o ciúme fica saliente, rebola e diz gracinhas que nem eu própria posso adiantar. Ninguém sabe, mas ele tem levezas de um fetinho. É maternal, põe fraldas, enquanto o trio desanca os seus caprichos. Resulta um show da uva, brilhante microfone do ciúme. Há sempre uma sombra no meu sorriso.
M2 – Eu só enjoo quando olho o mar.
Oráculo – A paixão é uma fera que hiberna precariamente.
M2 – Não consigo contar a história completa
Oráculo – A arte é aquilo que ajuda a escapar da inércia
M2 – Tenho medo de perder este silêncio
M1 – (para H1) – Vamos sair? Vamos andar no jardim? Porque me trouxeste para dentro do quarto?
H1 – Quando morreres, os teus caderninhos vão todos para a vitrine da exposição póstuma. Relíquias.
M2 – Quero passar-te o quarto imóvel com tudo dentro e nenhuma cidade fora com redes de parentela. Imagino a omnipotência dos fotógrafos escrutinando por detrás das câmaras, invisíveis como Deus.
H1 – Tu és o meu único tesouro. Mordes, gritas, não me deixas em paz, mas és o meu único tesouro.
M2 – Nada lá fora e a minha cabeça fala sozinha, assim, com movimento pendular de aparecer e desaparecer. Guarda bem este quarto parado com máquinas, cabeça e pêndulo. Guarda bem para mais tarde.
H1 – Então ouve: toma o xarope, deita no meu colo, descansa aqui. (M2 começa a tomar o xarope). Dorme que eu cuido de ti e não me assusto (M2 pousa o xarope e desfalece morta no colo de H1): Dorme, dorme.
Fim
Raul Brandão / Luiza Neto Jorge
Ninguém Ama Ema
Copulação dramática de textos de
Raul Brandão e Luiza Neto Jorge

Intérpretes: João Ascenso e Sónia Alves
Com Aurélie Quilgars e Carla Simões
Figurinos: Cláudia Gonçalves
Música: Puccini e Saint-Saens
Versão dramática, encenação, cenário e luzes: Alberto Augusto Miranda
A partir do Húmus de Raul Brandão e dos Sítios Sitiados de Luiza Neto Jorge, proveu-se uma encenação que desfigura estereótipos e recompõe o mais de nós. O efeito catártico e o indeslumbre provocado fazem, deste acontecimento, um momento sem continuidade, a Vida, para além dos silêncios que as respostas provocam.
João:
Estamos aqui todos à espera da morte! estamos aqui todos à espera da morte!
Sónia:
Posso estar aqui
eu posso estar aqui perfeitamente pobre
um círio me acendi espora aguda
o vento ritmo negro assassinou-o
posso estar aqui
– o musgo é lento como a sombra –
e sei de cor a voz cega das canções
(viola de silêncio acorda-me)
que eu posso estar aqui perfeitamente pedra
insone
e um longo segredo impessoal
bordando a minha solidão.
João:
Anda o desespero
Anda o instinto feroz.
Atrás disto andam as enxurradas de sóis e de pedras, e os mortos mais vivos do que quando estavam vivos. Atrás do tabique e das palavras anda a Vida e a Morte e outras figuras tremendas. Atrás das palavras com que te iludes, de que te sustentas, das palavras mágicas, sinto uma coisa descabelada e frenética, o espanto, a mixórdia, a dor, as forças monstruosas e cegas.
Sónia:
trago um filho
que parte o caule às estrelas
é louco e sofre
e parte o caule às estrelas
João:
Não se passa nada! não se passa nada!
Sónia:
Tragicamente o sol
põe luz nos braços
a morte é uma feira aberta em lua
João:
No verão o calor sufoca, de inverno a mesma nuvem impregna o granito, e apega-se, amolece, dissolve pilares das janelas, casebres e a oliveira da praça, só tronco e duas folhinhas cinzentas. Em volta um círculo de montanhas, descarnadas e atentas, espera a tragédia – e as montanhas não desistem. De quando em quando, na solidão que à noite redobra, caem do alto da Sé as badaladas, uma a uma, pausa a pausa.
O som tem um peso desconforme.
Sónia:
Estou à espera da noite contigo
venham as pontes ruindo sob os barcos
venham em rodas de sol
os montes os túneis e deus
estou à espera da noite contigo
livre de amor e ódio
livre
sem o cordão umbilical da morte
livre da morte
estou
à espera
da noite
João:
Tudo isto me pesa e pesa-me também não viver. Do fundo de mim mesmo protesto que a vida não é isto.
A árvore cumpre, o bicho cumpre. Só eu me afundo soterrado em cinza. Terei por força de me habituar à aquiescência e à regra?
Crio cama, e todos os dias sinto a usura da vida e os passos da morte mais fundo e mais perto.
– É necessário abalar os túmulos e desenterrar os mortos.
Sónia:
A virilha verde retesou-me o sonho.
Porquanto o horizonte é uma centopeia grande, o mar é uma centopeia grande. Nós uma centopeia emborcada, a arranhar o ar.
Abano-me com um leque de papel amarrotado. Saturo-me de coisas familiares. No outono, as flores apócrifas, no papel da parede, deixarão zumbir corolas.
A virilha verde sugou-me o sonho.
O sexo da 2.ª pessoa induvidada. A alma da 2.ª pessoa ambígua é o aberto entre mim e o sangue.
Sangra um lábio ilúcido arpoado no meu.
E o silêncio espásmico.
A virilha verde amorteceu no sonho.
Será urgente talhar uma paz apodrecida, a chicote, pelas manhãs nervadas?
Dormiste com as chaminés a fumegar.
Dormi a dar à luz.
Para se defender de nós, a noite estendeu o escudo. Há uma lua apedrejada de mitos e estrelas.
A virilha verde morreu.
Vigília.
Sónia:
João:
Ali a um canto um ser desata a rir, a rir, a rir como nunca ninguém se riu.
Sónia:
Como os comboios passam, só as árvores arrastadas sabem. Enquanto os comboios passam as estátuas renascem para a morte. Quando os comboios passam, a desculpa das calhas paralelas, o perdão dos crimes paralelos. Se os comboios passam, as pedras castram a liberdade humana.
João:
A noite é de aparato. A lua de coral sobe por trás da montanha em osso, e depois na chanfradura das ameias. Mais flores – todos os galhos dão flor. Sente-se, quase se ouve, a dor das árvores, dos seres vegetativos, ao terem de apressar, de modificar a sua vida lenta, dispersos em ternura.
– Perdi-a, perdi a vida! Esqueci-a como esqueci tudo. Perdi-a e mais dois dias e tinha suprimido a morte!
Sónia:
Sigo para o cabaré distante. Nasce, ao fundo da sala qualquer mesa vermelha entornada na música. A noite é em lâminas. Sentem-se vários animais febris suspensos dos telhados a tentarem um equilíbrio nos trapézios eléctricos.
João:
Ouço-me viver com terror – e caminho nas pontas dos pés para a morte.
Se a vida futura é um absurdo, esta vida é um absurdo maior. É tudo uma questão de hábito. Tanto sonhei contigo que te construí. Sou aqui tão necessário como as estrelas do céu. Aqui estou, criatura mesquinha, com a dor a meu lado, com sonho a meu lado. Hei-de acabar por te dominar. Não há morte que te valha! Isto é abjecto, ás vezes é grotesco – mas se isto desaparecesse, desaparecia Deus e, com o maior dos sonhos, todos os outros sonhos.
Sónia:
Chove todo o segredo dos segredos extintos pela rua. À chuva não acontece o possível. Acontece.
João:
Chove. Cada vez vejo mais turvo, cada vez tenho mais medo. Estamos enterrados em convenções até ao pescoço: usamos as mesmas palavras, fazemos os mesmos gestos. A poeira entranhada sufoca-nos. Pega-se. Adere. Há dias em que não distingo estes seres da minha própria alma; há dias em que através das máscaras vejo outras fisionomias, e, sob a impassibilidade, dor; há dias em que o céu e o inferno esperam e desesperam. Pressinto uma vida oculta, a questão é fazê-la vir à supuração.
Sónia:
Gritámos com a ambulância exausta. Acenava, de dentro, um homem morto. E a página de fora de um jornal antigo, do dia anterior, antigo, insustentável, com fotografias perfeitas e um eclipse longínquo, na beira do passeio.
João:
É certamente pela rua que vou. Golfadas de olhos e cabelos e um oboé silencioso. Desalinho. Vagueia um automóvel onírico. É pela rua. Que vamos. Que somos acometidos pelas costas. Estilhaçados de inércia. Poderosos de sexo. Invariáveis.
João:
O homem por dentro é desconforme. É ele e todos os mortos. É uma sombra desmedida: encerra em si a vastidão do universo. E com isto teve de atender a máscara. Para poder viver teve de se transformar e de esquecer a figura real por a figura de todos os dias. Agora todos somos fantasmas – todos somos afinal só fantasmas, e o que construímos já não cabe entre as quatro paredes da matéria…
Todos temos de matar, todos temos de destruir. Todos temos de deitar abaixo.
Sónia:
Sinto que posso subir às árvores e colher os ninhos. Tenho mãos líricas de ladrão de luas, mãos crucificadas em palcos de tragédia. Espalhar depois as penas dos pássaros em novelos desfiados. Ser cruel, febrilmente cruel, colher ninhos, abrir crisálidas.
João:
Desprezo a dor. Exijo-a diante da eternidade. Sou capaz de andar de rasto com a boca no pó, sou capaz de sofrer todos os tormentos, com a certeza de que me livro de uma eternidade de angústias para ver Deus. Venham todos os escárnios, todos os gritos, todos os suores da agonia – venha meu Deus a cruz!
Sónia:
Desculpem-nos a liberdade dos suicídios macios nas traseiras dos jardins. Ou os partos dramáticos enterrados na areia. É tão verde o sol que nos rompe as órbitas. A casa deserta rodou três vezes.
João:
Até à morte hei-de crer no que creio. Sem crer não sou nada – sem crer não existo – sem crer não compreendo a vida. Preciso de caminhar para um destino. Crer é uma necessidade absoluta, um sentimento primário, a própria vida, sua razão e seu fim. Tenho necessidade de Deus, como do ar que respiro. Sem ele a vida é desconexa e atroz; pior, é monstruosa. Creio porque creio. Se a vida se reduzisse só a isto, a vida seria abjecta. Dentro em mim tudo me fala numa lei, numa lógica, numa razão de ser, num sentido. Eu vejo Deus, eu sinto Deus.
Sónia:
O dia começa pela sombra
como um povo começa pelo pó
luz e morte coincidem hora a hora
João:
Mas se Deus não existe – se Deus não existe que me fica no mundo? Sou nada no infinito. Fui tudo – e sou nada. Leva-me a força bruta. Sou o acaso na mistificação. Sou menos que nada no monstruoso impulso. Se Deus não existe tanto faz gritar como não gritar. Não tenho destino a cumprir: saio do nada para o nada.
Sónia:
Atrás do meu gesto
a mão sozinha os dedos conspirando
assimétricos
salientes do corpo até à morte
João:
Nas mãos da força bruta que sou eu no mundo que grito, que discuto, que clamo?… Atrás deste infinito vivo, há outro infinito vivo. Atrás desta impenetrabilidade, há outra camada de impenetrabilidade, outra vida ainda, outro desespero sôfrego. Não encontro aqui lugar para Deus que me ouça, que me atenda, ou que saiba sequer que existo.
Os gritos são inúteis, tu não me ouves. Estou só neste absurdo que me impele e esmaga… Que não houvesse o céu, que houvesse o inferno! só o inferno! e nem o inferno existe!…
Sónia:
Louca como era a da esquina
recebia gente a qualquer hora
Caía em pedaços e
vejam lá convidava as rameiras
os ratos os ninhos de cegonha
apitos de comboios bêbados pianos
como todas as vozes de animais selvagens.
João:
Do sonho que revolve o mundo cabe também uma parte à mulher da esfrega. Arrasta tudo consigo. Cai o inverno dentro da primavera. Engrandece-a, espalma-lhe os pés, esfarrapa-lhe os vestidos.
Está aqui a figura – está aqui outra coisa. Muda de expressão, como se fosse possível as lágrimas usarem por dentro as figuras humanas, com a chuva ou os passos gastam a pedra. Aquilo dura um momento, transparece um minuto, mas esse minuto chega. Logo à submissão e à humildade se mistura um nada de entontecimento. Quase nada. Trouxe sempre consigo debaixo do xaile um resto de sonho amargo.
Sónia:
Ontem antes de ontem antes de amanhã antes de hoje antes deste número-tempo deste número-espaço uma boca feita de lábios alheios beijou.
Precipício aberto: ele nada revela que tu já não saibas.
Porque este contágio de precipícios foste tu que mo comunicaste maléfico como um pássaro sem bico.
João:
Ela foi uma flor que se aspira e de deita fora – quase sem reparar – cismando na imortalidade da alma.
Se eu pudesse cinematografar a vida de uma flor, cinematografava a sua vida. Não sei dizer se existiu se a criei, e o que na realidade me interessa é o que ela disse à grande nódoa de humidade da parede.
Sei que chorou mas não a ouvi chorar. Ninguém a ouviu, ninguém deu por ela. Passou como uma sombra. Habituou-se. As lágrimas sumiu-as, meteu-as para dentro. A dor aprendeu a contê-la. Habituou-se a queixar-se à grande nódoa de humidade da parede. Entre mim e ela interpôs-se o sonho.
Sónia:
Muito bom-dia querido moribundo. Sozinho declaraste a terceira grande paz mundial quando abrindo os olhos me deste de comer cronométricamente às mil e tantas horas da manhã de hoje.
João:
Resta-me o bem. Mas fazer o bem para quê se tudo acaba ali, se não há outra vida consciente, se não tenho de responder perante ti pelos meus actos? E mesmo diante do escantilhão sôfrego, o que é o bem e o mal? A que eu tenho de obedecer é ao instinto e mais nada. Se não estás aí para me julgar e para me ouvir, que importa fazer isto ou fazer exactamente o contrário? Só uma coisa resta: iludir os desgraçados, levá-los para uma mentira cada vez maior, para que possam suportar a vida. Não se trata do bem ou do mal, do justo ou do injusto – trata-se de mentir, de mentir sempre – de mentir cada vez mais.
Sónia:
Calo-me.
Reparei de repente que não estavas aqui. Pus-me a falar a falar. Coisas de mulher desabitada. Sei que um dia desviarei sem ti os passeios rectos esvaziarei os gordos manequins falantes. A razão é uma chapa de ferro ao rubro: se acredito na tua morte começo o suicídio.
João:
Lá vai a Teles, e a D. Restituta – lá vai a mulher da esfrega empurrando o farrapo monstruoso que se agita na noite… A sombra e a mulher da esfrega, o espanto e a mulher da esfrega, o sonho doirado de grandes asas esfarrapadas no negrume e as mãos encortiçadas de lavar a loiça, a vida frenética e a vida humilde.
Sónia:
É a altura de escrever sobre a espera. A espera tem unhas de fome, bico calado, pernas para que as quer. Senta-se de frente e de lado em qualquer assento. Descai com o sono a cabeça de animal exótico enquanto os olhos se fixam sobre a ponta do meu pé e principiam um movimento de rotação em volta de mim em volta de mim de ti.
João:
– O dever? que dever? Antes a deixasses morrer de fome.
Sónia:
– Mantive-a para cumprir o meu dever.
João:
– Olha, se podes, pata ti, olha para dentro de ti, olha mais fundo para ti.
Sónia:
– Matei-lhe a fome.
João:
– Mataste-lhe a fome mas não pudeste amá-la.
Sónia:
– Nem posso! nem posso! nem posso!
(Silêncio)
João:
O adultério é uma questão de teatro.
Acaba de tirar a máscara. Arranca de vez a máscara… A mulher honesta só tem deveres a cumprir; a outra atirou com o fardo pela borda fora e afronta-a. Põe-nos à vontade. Com ela avançamos e regressamos: é a besta e a mulher de luxo.
Sónia:
Nunca te conheci – assim explico o teu desaparecimento. Ou antes: separei-me de ti no solstício de um verão ultrapassado. As mulheres viajavam pela cidade completamente nuas de corpo e espírito. Os homens mordiam-se com cio.
Imperturbável pertenceste-me. Assim nos separámos.
João:
O corpo médico também evolucionou. A sua grande missão consiste em matar, em suprimir os sifilíticos, os paranóicos, os tuberculosos, todos os que constituem um perigo para a humanidade futura.
Sónia:
A pobreza surge dentro de nós. Contemplamos um país e sentamo-nos e vestimo-nos e comemos e admiramos os monumentos e morremos.
João:
O futuro há-de dividir a história em três períodos: o dos senhores; o da Igreja que manteve os desgraçados na subordinação, prometendo-lhes o reino dos céus; o dos escravos…
Sónia:
Inventei a nossa morte em toda a possível extensão das palavras. Aterrorizei-me segundos a fio enquanto em corpo nu ouvindo-me adormecias devagar.
Com a precaução de quem tem flores fechadas no peito passeei de noite pela casa. Um fantasma forçou uma porta atrás de mim. Gemendo como um animal estrangulado acordei-te.
João:
O amor é um único minuto. Um minuto esplêndido. O resto é hábito, palavras, hesitações, trampolinice, livros de capa amarela…
Sónia:
Enterro o meu temor como um alfange ma terra. Porque é preciso ter medo bastante para correr bastante toda a casa celebrar bastantes missas negras atravessar bastante todas as ruas com demónios privados nas esquinas.
João:
– Também eu D. Leocádia! Lé com cré. Também eu, se me liberto disto que não tem significação, não encontro nada que tenha significação. Chegámos ambos ao ponto e estamos ambos estarrecidos. Moeste-te e moeste-me por uma palavra apenas… Olha bem para ti! olha bem para dentro de ti! Moras na rua da Betesga, entre duas ou três curiosidades seculares. Usas um vestido de lemistre, luvas de algodão no fio e um broche pendurado ao pescoço. Não sei por que bambúrrio se te encasquetou no toutiço a ideia de Deus e do dever, e de que o infinito tem de dar importância ao teu problema, aos teus flatos e ao teu broche, onde um retrato de suíças não tira de mim os olhos de peixe… Não mastigues. Bem sei que só nós, tu e eu, eu e tu, com o teu vestido de lemistre, é que somos capazes de contrair noções, talvez erróneas mas profundas, do bem e do mal. Os outros bichos têm mais que fazer.
Sónia:
Só o amor tem uma voz e um gesto mesmo no rosto da ideia que me impus da morte.
João:
A cidade é odiosa. Por toda a parte hotéis, palácios, entulho, chalés, casernas, avenidas novas.
Sónia:
És tu tão único como a noite é um astro.
João:
Por toda a parte tine o oiro, jorra a luz dos reflectores e declamam charlatães como palhaços de feira.
Sónia:
Sobre a poeira que te cobre o peito deixo o meu cartão de visita o meu nome profissão morada telefone.
João:
Ó morte que tão bem cheiras, aqui me tens para te servir. Ó morte que tão bem cheiras, tu dilues o travor de fel e acalmas a acidez da inveja. Agora aguenta-te, majestosa Teodora!
Sónia:
Disse-te: eis-me.
E decepei-te a cabeça de um só golpe.
João:
outro dia foram encontradas num banco do jardim duas velhas de setenta anos, que declararam ser filhas de príncipes na miséria, e que ninguém quis reconhecer, ninguém quis atender…
Sónia:
Não queria matar-te. Choro.
João:
Por toda a parte teatros, palácios monumentais, avenidas de cartão e pasta, monumentos de cimento e ripas, cenário, lixo e afronta. Um edifício esmaga e domina toda a casaria, o casino insolente, com a obscena cúpula de vidro. Todo o dia, toda a noite, as orquestras tocam e os remoçados apressam-se a gozar, as mulheres a distinguir amarelo, as opulentas criaturas soberbas de luxo, outra vez moças e sôfregas de vida.
Sónia:
Eis-me! Eis-me!
Sónia:
Aquilo que às vezes parece
um sinal no rosto
é a casa do mundo
é um armário poderoso
com tecidos sanguíneos guardados
e a sua tribo de portas sensíveis.
Luzindo cheguei à porta.
Interrompo os objectos de família, atiro-lhes a porta.
Acendo os interruptores, acendo a interrupção,
as novas paisagens têm cabeça, a luz
é uma pintura clara, mais claramente lembro:
uma porta, um armário, aquela casa.
É a casa do mundo:
desaparece em seguida.
João:
Entre as pazadas de oiro, ressoam as marteladas das construções, que se erguem no espaço de uma semana, novos hotéis, novas avenidas, teatros novos. E duas intermináveis filas, a dos doentes e exaustos, a dos remoçados, não descontinuam de gritar: – A vida! a vida! a vida! – O gozo! o gozo! o gozo! – Uma entra no Palácio, a outra sai do Palácio; eles de negro vestidos, elas adornadas para um baile, de branco como noivas. Remoçados e uma secura de inferno, outra vez novos e na boca um sabor a pó. Que estranho cortejo, brilhante de pedrarias, com as úlceras transformadas em sorrisos! Eles sorriem, elas sorriem. Incide sobre a bicha o jogo dos reflectores. E nesta alegria, uma solidão de jazigo. Alguma coisa morreu. Nem todos os fachos eléctricos, nem todos os risos, espancam as sombras que os envolvem – nem todos os perfumes o cheiro a cova – nem todas as jóias as chagas, a luxúria, as almas de aço. Cada homem de negro, cada mulher de branco leva consigo um cadáver.
Sónia:
A vida está cada vez mais cara
no meu tempo a vida
era mais em conta
fazia menos calor
as cidades não mudavam de lugar
corria uma brisa, como uma vassoura.
O fruto, um autómato surpreendido.
Desprendeu-se da casca, que viu?
Um autocarro, um avião, um submarino.
Os frutos frios por fora
são por dentro aquecidos a electricidade.
os frutos davam frutos, flores, brinquedos.
No meu tempo o rio corria limpo
como um corredor novo
nadávamos nus
uns pelo meio dos outros
extraíamos um amante do vulcão mais próximo.
João:
A um dos meus o mais novo
o mais próximo da sua idade
matou-o o fumo!
Sónia:
Vivia-se até à última.
A vida era mais em conta;
João:
depois
derramaram-se histórias sobre mim
os olhos de Buda destilavam
penicilina, eram o que se chama uns olhos
divinos.
Sónia:
Nunca mais quero animais
em casa.
João:
Morriam os animais
comprava-se veneno,
Sónia:
Matava-se gente.
João:
Muito amantes dormindo sobre a lava.
Morríamos em ilhas separadas por
um cordão de rios ininterruptos.
Nem tínhamos idade para ser crianças num
continente.
Sónia:
Havia no meu tempo fábricas
sumptuosas. Onde se fabricava uma constelação
exacta e limpa, um amor sumptuoso e seus afluentes,
e ínfimas máquinas purgatórias.
Fabricava-se mais e melhor que hoje.
João:
Não há respeito por ninguém;
por exemplo o diamante
não tem a utilidade de uma jóia:
é só um diamante (para um asceta)
só um dia amante (para um suicida).
Com uma jóia, sim, compra-se o mundo.
Sónia:
No meu tempo mal se via a terra
às escuras. Uma luz satélite, um olho
artificial,
uma luz de fruto verde frio por fora
operava esse milagre, essa visão.
João:
Meu pai, que se ausentara,
sabia que seu pai ia ser morto.
Sónia:
Estendia-se a roupa sobre o fogo.
Crescia o pão largo como uma
ampola de penicilina, em tempo de guerra
de guerrilhas.
João:
Estamos aqui todos à espera da morte! estamos aqui todos à espera da morte!
Sónia:
As mulheres, é espesso perfume lembrá-lo,
têm ângulos ausentes no que vêem e no que falam e nas
ocultas
nebulosas do seu corpo
o amante adivinha como um homem traído.
João:
Estamos aqui todos à espera da morte! estamos aqui todos à espera da morte!
Sónia:
Minha irmã é que nasceu a falar
de um derramamento colossal
da solidão.
João:
Estamos aqui todos à espera da morte! estamos aqui todos à espera da morte!
FIM
Cristina O
Uma física redoma o céu, volvido cosmos, à escala da câmara.
A imensa e variada fruta está suspensa do azul-negro, os insectos maravedis voltaram ao conforto das artérias cretenses.
O erotismo é um contra-tempo. Não se vincula ao pragmatismo ou à fúria da concretização.
O naipe branco dos dentes morde a circunstância sem a impregnar de continuidade.
Está sem programa. Não trabalha Para. Está por inteiro Com. Está. Em Olimbo.
Fora dos Olimpes, sem compe-TIR.
O branco não é o palimpsesto onde preencher. É preenchimento.
O corpo é agora uma multidão.
De corpos e frutas.
Estende-se por toda a pradaria celeste como um Princípio veraz.
Cabe no universo do espelho mirado em luxidez.
Não é com as mão que faço subir as vestes brancas de Cristina O.
Nojo
uma peça nojenta de alberto augusto miranda
1
Cenário Branco
Il – Porque choras?
Claude – Porque não tenho nada para fazer
De repente uma nuvem de pés altos sublinha a distância.
Todas As Pessoas Escondidas – É o fim!
Entra o Espelho perseguido por uma luz forte.
Após bravatas de concorrência, o Espelho ocupa toda a cena. Gritos lancinantes saem detrás do Espelho.
Vultos vários tentam passar à frente do Espelho e mirarem-se. Caem sempre atingidos por uma descarga luminosa. Alguns ficam ainda moribundos e conseguem ter o tempo suficiente para recitar:
–Podia ser uma maravilha!
2
O espelho retira-se, sempre acompanhado da personalidade da luz. Novamente cenário branco.
Fumo. Muito fumo.
Claude, que mergulhara a cabeça entre os braços, soergue-se e apoia a mão direita no ombro esquerdo de Il.
Claude – Amigo, que ironia!
Ela tem razão – dizem alguns espectadores .
Il cai, destemperado, monotonamente, e deposita os lábios no tornozelo de Claude;
Depois enlaça-lhe as pernas, fazendo-a cair.
Ambos ficam estendidos em linha recta.
3
Há muito tempo que se ouve, sussurrante, uma música.
Talvez Prokofiev.
Ela estala agora na cena nua.
Passam multidões
em diagonal. Continuamente. Em cada triângulo formado pelas duas diagonais de gente, chovem flores. De preferência cravos vermelhos, miosótis e salgueiros. As flores, por acumulação, chegam à altura dos homens e mulheres que lentamente vão deixando um círculo aberto no meio das diagonais.
Claude, descendo até ao círculo, grita alegre e enérgica:
Claude – VIVA!
Il desce rapidamente, coloca-se ao lado de Claude, abraça-a, olha para todos os lados e finalmente proclama:
Il – SOMOS NÓS!
Claude e Il deixam o círculo e alagam-se de flores. Os homens retomam a marcha diagonal, Prokofiev agudiza-se e a luz vai suave em desaparição.
4
Penumbra. Uma cama.
Claude – Hoje…
Il – Sim…
Claude – hoje…
Il – Pois foi…
Claude – Amanhã…
Il – Amanhã…
Claude – Se amanhã fosse…
Il – Claro que há-de ser…
Claude – Achas?
Il – Oh meu amor…
Fornicam sem som. A preto e branco.
5
Agora, debaixo de um cenário absurdo, Claude aparece disfarçada. Mas não o suficiente para impedir Il de a reconhecer.
Il (nada admirado, apenas curioso) – Porquê, Claude?
Claude – E porquê esse porquê?
Il, com um gesto de fastio, movimenta as pernas em direcção a um canto de indiferença.
Claude – Está bem, Il, eu explico-te.
Il (encolhendo os ombros) – Diz lá!
Claude – Este disfarce é um abrigo contra o nojo!
Ouve-se o barulho do céu.
Il, que no fundo é um romântico, despoleta toda a sua energia e, num salto espectacular, ultrapassa a mesa de pinho colocada ao centro da cena. Isto provoca aplausos prolongados de uma assistência sebastianista. Assustado e sobretudo admirado com o clamor das palmas, Il regressa aos seus aposentos de ingenuidade.
6
Claude – Eu adivinhava que não me compreenderias!
Il treme, estrebucha, revira-se, levanta-se e corre loucamente pelo palco. Nem ele próprio sabe quando vai parar. Quando a vertigem fica sem lubrificação, está diante de Claude.
Il – Eu compreendo-te Claude, eu compreendo-te Claude, eu COMPREENDO!
Claude que já sabia que não estava só, assume uma atitude de coquete. Il abana a cabeça. Claude insiste Fica temporariamente nua.
Claude (virando-se de frente para Il) – Eis!
Il abana a cabeça, agita os braços em sinal interrogativo, poisa as mãos nos ombros de Claude e, calmamente, desembaraça-se do seu saber:
Il – Eu compreendo-te Claude, eu compreendo-te Claude, claro que te compreendo!!!
Claude perde os sentidos.
7
Emudecidos pela confusão, Claude e Il penetram no conflito que duas diagonais de gente novamente lhes estendem. Il tem ataques de misantropia enquanto Claude não resiste a subconscientes acessos folclóricos. Silêncio. Muito silêncio. Silêncio absoluto. A marcha das diagonais é o melhor e mais conseguido silêncio. O público não fala. A porta das entradas já fechou e ninguém reclama o bilhete que não teve. Claude é possuída por uma associação de ideias perturbadora, embora ligeira. Em sucessivas análises, faz a comparação dos silêncios. Conjugando as suas interiores dissertações, perfeitamente sintonizadas com alguns sectores do público, berra-canta em estilo hard-rock, com caixa-de-ritmos tecno:
– QUE – SE – FA – ÇA – BA – RU – LHO!
8
Um arlequim histórico entra decididamente em palco e estendendo o dedo indicador, interroga altaneiro:
Arlequim – Quem profanou?
Il retira do bolso um fósforo aceso e os holofotes que brilhavam intermitentemente ao tempo da fala de Arlequim, desligam-se automaticamente.
Arlequim (confundido e em pânico) – Liguem as Luzes da Ribalta!
O fósforo extingue-se. Ouve-se o barulho de interruptores sem que se consiga obter a luz artificial. Este é o momento em que alguns carteiristas cultos, conhecedores da peça, trabalham afanosamente. Acende-se uma luz mediana. Aproxima-se um homem de aspecto consciente e diz em forte e convicção:
Homem – Que ninguém fique à espera!
Brilham de novo os holofotes coloridos, reentra o Espelho e saem as pessoas.
9
O Espelho reflecte agora apenas uma luz branca enquanto se baloiça em borbulhas de caldeira pensante.
Espelho – É preciso desenlaçar os olhos do nó dos preconceitos. Serei então útil e cultural. Sobretudo reencontrarei a minha sinceridade
em vós. Quando vos vejo logo vos sinto dentro de mim. É verdade… sou altamente influenciável.
O Presidente da Administração Que Assiste à Peça (virando-se para um accionista:) – Coitado, está deprimido este mendigo de atenção. Temos de falar com ele.
Accionista – Não se preocupe, nós já enviámos um novo menu de software para especuladores.
Espelho – Mas nós não somos todos iguais. Há espelhos que vos deformam correndo o risco de ser estilhaçados. Muitos de vós não gostam de saber o que são, ou melhor, não gostam que alguém saiba o que são. Mas se houver um voluntário eu mostrar-lhe-ei o que ele é realmente.
Vozes – Convencido! Diletante!
10
Ninguém se aproxima.
Ouve-se um estrondo.
A luz branca apaga-se e acendem-se algumas dezenas de velas da altura de um metro.
O Espelho cai e desfaz-se em vidrinhos.
O Requiem de Mozart vem à tona do palco.
As velas foram colocadas de modo a formarem pistas circulares que comunicam entre si por uma passagem igualmente formada por velas.
Os abutres voam num slide projectado sobre um pano branco segurado por Claude e Il.
Sempre ouvindo o Requiem, Claude e Il fazem o percurso que atravessa os caminhos circulares de velas. O seu passeio é lento. À sua passagem vão apagando as velas que os ladeiam. Quando se extingue a chama da última vela extingue-se também a última nota do Requiem.
Breve silêncio escuro.
Um galo canta fazendo renascer nos assistentes mais tradicionalistas, o ideal da Aurea Mediocritas.
11
Claude e Il desembaraçam-se do estranho cenário sem no entanto conseguirem um cenário homogéneo. Essa impossibilidade comporta a denúncia de uma mútua frustração que submerge a toda a largura do palco.
O palco ondula como uma jangada no alto mar.
Palco – Vou para onde sou levado. A verdade é que nutro uma paixão pelos oceanos. O Antárctico é o meu favorito enquanto o Atlântico me provoca recordações vicentinas. Vou por vezes passar férias ao Mediterrâneo. Mas no fundo sinto-me civilizado. Quando cruzo o Pacífico perco a personalidade. Um palco consciente não pode estar tranquilo!
Oriundo da 3ª fila, o Liberalismo salta para cima do palco e, compondo a écharpe, dispara histérico e ecléctico:
Liberalismo – Lugar a todos no palco! Mortos e vivos! Maçónicos, Opus Day e Espíritas! Psicopatas e polícias! Torcionários e rebeldes! Franceses e prussianos! Tarados e misóginos…
Neste momento o Liberalismo é interrompido por uma gargalhada geral que anuncia o términos duma actuação antiquada.
12
Noite cerrada.
Um cerco de ilusões diminui a largura do palco.
Projecta-se o passado.
Baloiça um candelabro.
Um morcego é surpreendido no seu voo mágico.
Uma luz ilumina uma guilhotina sofisticada.
Claude adormeceu compulsivamente.
Il fuma.
O sonho mais directo esmurra nas galerias.
Lamenta-se a perda da suavidade.
Cantos religiosos – talvez espirituais negros – acompanham as baforadas de fumo que Il vomita.
Il – Que nojo, meu Deus!
Uma gargalhada assustadora arrepia os mais prevenidos.
Os cantos também se desagregam momentaneamente.
Claude estrebucha mas o soporífero é mais forte.
Renasce a metamorfose dos conceitos.
No público instala-se o medo ao desconhecido.
Espectador (em pavor) – Sabes? Isto é a Morte!
Outro Espectador– A Morte?
(Entra em pânico como nos tempos de infância injectada)
Espectador – Sim, a Morte!
13
Il – Que nojo, meu Deus!
Deus – Não digas isso, meu filho.
Claude estrebucha de novo. Um estertor místico revolve-lhe o corpo saturado.
Faz movimentos de mãos e braços inseguros.
Eleva as pernas à altura da dúvida.
Il – Olha, deus, eu faço o que me apetece!
Deus – Como queiras. Eu ofereci-vos a liberdade.
Il – A liberdade… Podias ser menos ridículo.
Os coros religiosos entoam atrozmente a Missa Solemnis de Beethoven.
Todos tremem em volta do espectáculo. Alguns tentam fugir. Mas é inútil: estão grudados pela Ignorância.
Il (alteando a voz, em lírico-profano) –Hossana, lá nas alturas!
Claude tem um sobressalto, semilevanta-se e implora:
Claude – Cala-te, Il, por amor de deus!
Um manto preto abafa as vozes e cobre os intérpretes.
14
Claude e Il fazem planos de abandono do palco.
Claude – Como iremos sair daqui?
Il (abraçando-a) – Não penses nisso agora
Claude –Não, Il, nada de amor. O momento é muito grave.
Il – Por isso mesmo. Precisamos de calma e a melhor maneira de o conseguirmos é cansarmo-nos como esforço da carne.
Claude – Essa terapia já expirou a validade.
Il – Puro engano, Claude. Sempre foi assim. É uma catarse necessária desde os sedentários. É universal.
Claude – Porque foges, Il?
Il –Tu queres resolver, não é? Sair do palco para sempre. Mas onde está a alternativa? Vá, não fujas, responde!
Claude (tomando posse do corpo de Il) – És sempre o mesmo freudiano!
15
O Arlequim reentra cantando:
Arlequim, Arlequim doirado
Que nasce do monte
Sem ser semeado
Arlequim – Ahá! Parece que eles se vão embora. Vai ser uma limpeza. Vou ter um palco só para mim.
Cantarola:
Eu sou o Arlequim Tenho um palco só para mim
Il (calmamente) – Ouve lá, ó Arlequim…
Arlequim – Faça o favor de dizer…
Il (autoritário) – Vai-te embora! Desaparece da peça, desaparece do palco, desaparece do quadro, desaparece da cena, desaparece do cenário – RUA!
Claude – Il, eu também fico!
Il (à parte) – Nada como uma boa demonstração de machismo!
16
Do público, compacto e maciço, restam apenas duas pessoas
Claude – Eu não te dizia? Devíamos ter feito um teatro a sério!
Arlequim – Que vos dizia eu?
Il – O que vocês queriam era telenovela. Uma telenovela, sim, uma telenovela! Uma telenovela com vítimas e heróis, uma ficção que repetisse o que vocês já soubessem. Com princípio, meio e fim. Era o que queriam, não era?
Um Dos Espectadores (peremptório) – Era sim senhor. O que nós queríamos era teatro.
Il – Isso quer dizer que nós não fizemos teatro! Claude, nós conseguimos não fazer teatro. Vamos acabar sem ter representado.
Claude – Mas, então, existimos?
Il – Também me convenci que éramos mortos de profissão, que tínhamos deixado a vida ao entrar neste palco. Mas vamos embora, é muito arriscado.
O Segundo Espectador – Il, por favor… Claude, por favor… continuem.
Claude (respondendo:) – Desculpe…Precisamos de pensar melhor.
17
Entram os gémeos Bastidores:
Bastidor 1- Põe a mesa.
Bastidor 2 – Põe o pano
Claude e Il sentam-se na mesa e ficam ocultos pelo pano
Claude (voz off) – Não é fácil
Il – (voz off) É fodido.
Claude – Mas nós vivemos disto!
Il – Temos de continuar, temos de continuar
Claude – Mas isto não era o que queríamos
Il – Ainda te lembras do que queríamos?
Claude – Procurávamos o teatro, melhor, a verdade através do teatro
Il – Mas isso mantém-se.
Claude – Mantém-se?
Il – Sim, a nossa procura continua.
Claude – A nossa procura?
Il – Sim, é por isso que aqui estamos.
Claude – Mas qual procura? Fazemos o mesmo todos os dias e raramente é verdade. Das 200 representações que fizemos este ano, quantas foram teatro, quantas foram verdade? Andaste dois meses com uma micose na garganta e, pelo menos em vinte espectáculos, corri a vomitar durante o black-out.
Il – Tens razão, vamos acabar com esta merda.
Claude – Espera, Il… e depois?
Il – Depois fazemos teatro só quando for verdade.
Claude – E como vamos fazer para anunciar antecipadamente quando é verdade?
Il – Foda-se! E eu tenho de saber tudo?
Claude – Tu é que tiveste a ideia.
Il – Há quanto tempo andamos com esta peça?
Claude – Seis meses
Il – Aborta-se já!
Claude – Ah, agora decides por mim…
Barulho em lento crescendo, crescendo, crescendo.
Estrondo. Mesa e pano pelo ar. Os gémeos são empurrados para fora de cena.
Il (virando-se para o único espectador:) – O senhor merece. Sim, sim, o senhor merece. Por si vamos continuar.
18
Um relógio pendurado à cabeça da agonia, desfralda magneticamente as horas. Pretende-se um certo charme coreográfico nem que seja pela abstinência de posições concretas. Representa-se a peça anti-governamental: “Jesus e os seus idílios”.
Ouvem-se pastorais executados pelo cravo bem temperado. A sala enche novamente.
VOZ – Enfim, vamos lá ver o que eles querem!
O burburinho esmorece e dá lugar à récita dos lugares conhecidos.
Teresa de Calcutá fala de barrigas vazias, cheias de água, com um sorriso nos lábios hiperfinos, mas também – verdade seja dita – com mágoa.
Teresa de Calcutá – Está próximo o fim!
19
O Fim aproxima-se:
Fim – Venho aqui exclusivamente pela consideração que os intervenientes me merecem. Estou cansado de ser chamado a todo o lado. Será que, por uma vez, não podem prescindir de mim? Baixam muitas cabeças curvadas pelo remorso de reclamarem um Fim.
Claude – Ah, Fim, como te agradeço!
Fim – Dou, então, pela autoridade que me é conferida, o espectáculo por terminado.
Il – Ah, Fim, estou-te imensamente grato!
Il abraça Fim.
Aperta-o fortemente.
Há um esboço de luta que termina com a queda de Fim.
Ouvem-se as pancadas de Molière. Abre-se o pano.
-
Arquivos
- Março 2007 (8)
-
Categorias
-
RSS
Entries RSS
Comments RSS